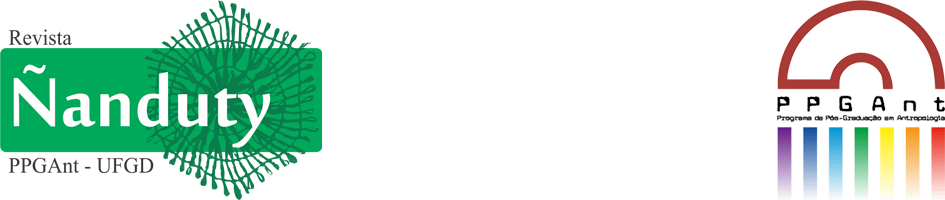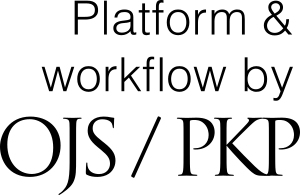Experiências estético-corporais e práticas rituais em religiões de matriz africana e afroindígena (PRORROGAÇÃO DE CHAMADA DOSSIÊ 2026-1 )
Experiências estético-corporais e práticas rituais em religiões de matriz africana e afroindígena (PRORROGAÇÃO - CHAMADA DOSSIÊ 2026-1 )
PRORROGAÇÃO DO PRAZO! As contribuições devem ser feitas até o dia 31 de outubro de 2025 apenas pelo e-mail da revista Ñanduty revistappgant@gmail.com (com assunto: dossiê 2026-1).
Atenção às regras de formatação para os textos submetidos (constantes em “diretrizes para autores” no site da revista).
Organizadores:
Prof. Dr. Edgar Rodrigues Barbosa Neto (FaE/PPGAn – UFMG) - https://orcid.org/0000-0002-4716-7145
Ma. Fabiana Marques do Carmo (CuraRe – UFAL) - https://orcid.org/0009-0003-9673-3355
Me. Yuri Tomaz dos Santos (PPGAn – UFMG) - https://orcid.org/0000-0003-4395-179X
É bastante conhecido o lugar do corpo como tecnologia de mediação do sagrado entre praticantes de religiões de matriz africana e afroindígena. Enquanto tecnologia, o corpo é simultaneamente produto e produtor de mediações, e nesse sentido ele aparece como inseparável de agenciamentos que colocam em relação tempos, lugares, objetos rituais, ferramentas litúrgicas, humanos, divindades, animais, plantas, artefatos materiais, imagens etc. O corpo, desse ponto de vista, é tanto forma quanto força, ao mesmo tempo material e imaterial. Pode-se perguntar, nesse sentido, como as práticas e as expressões rituais, notadamente banhos, incorporações, ocupações, irradiações, recolhimentos, ebós, otimizações, benzimentos, resguardos, iniciações, escarificações, cirurgias espirituais, ritos funerários e tantas outras, são experimentadas por adeptos e adeptas tendo o corpo como tecnologia que media, recepciona, emite, agencia, compartilha e sacraliza esses momentos litúrgicos?
Por outro lado, convém acrescentar que a notória presença do corpo na pesquisa atual, que às vezes parece transformá-lo em uma espécie de ideia pronta, não pode nos levar a perder de vista o importantíssimo lugar ocupado por ele em diversos trabalhos clássicos, dentro e fora do campo de estudo das religiões de matriz africana e afroindígena. Será suficiente lembrar, por exemplo, a sua centralidade na monografia clássica de Roger Bastide sobre o Candomblé da Bahia, na qual o corpo aparece na interface entre a anatomia, a cosmologia e a geografia, com destaque para as relações de natureza analógica e participativa entre seus limiares e fronteiras, suas passagens e cortes, compondo vínculos complexos entre pessoas, terreiros e divindades.
O corpo, assim como o terreiro e o cosmos, não forma uma unidade homogênea. Cada uma de suas partes recebe um cuidado e uma atenção especiais, e é na sua diversidade que elas se conectam umas com as outras, formando um complexo equilíbrio estético-ritual. É nesse sentido que o corpo é a cabeça, lugar no qual se assenta a divindade principal de cada pessoa, e que dispõe de sua própria diferenciação interna, como aquela que distingue a frente e o fundo, os lados direito e esquerdo, o centro; mas também os olhos, tornados divinos pelo compartilhamento do axé que fortalece a potência da visão; as mãos, através das quais se faz a existência; a boca, em sua dialética sagrada que reúne a palavra e a culinária, a saliva e o axé; as pernas e os pés, pelas quais passam ao mesmo tempo o movimento e o vínculo com a terra; o útero, imago mundi que associa o corpo e a casa etc. O corpo é também inseparável de todo um conjunto de gestos e de estados, tais como sentar-se diretamente no chão ou mais acima, deitar-se de frente ou de costas, friccionar as mãos, espalmá-las, batê-las uma na outra, olhar para baixo, evitar o contato olho no olho, intuir, sentir sono, cansaço, sonhar entre tantos outros.
Todas essas partes e suas articulações, essas posturas e sensações, fazem do corpo um altar multissensorial, e no qual está implicado o território da comunidade, na diversidade que a constitui. O corpo é atravessado pela multiplicidade que constitui o mundo. Precisamente por isso podemos também dizer que cada corpo é composto por vários corpos. Desse ponto de vista, falar do corpo é também falar da pessoa, das práticas rituais de sua constituição, de sua produção como um ser e como uma força, simultaneamente singular e coletiva. É importante observar que esses regimes de constituição de pessoas, inseparáveis de diversas práticas rituais, também se encontram interseccionados por experiências de raça, de gênero, de sexualidade, de classe, de idade que atravessam os territórios negros das comunidades de terreiro.
O corpo, como território simultaneamente pessoal e coletivo, se constitui como dispositivo de processos de individuação, ou talvez de singularização, mas dos quais não resultam nada parecido com a ideia de indivíduo ou de indivisibilidade. As religiões de matriz africana e afroindígena compõem modos de existência e estilos de pensamento que tornam possível compreender como a individuação se articula com a multiplicidade, tal como indicado por Roger Bastide em seu ensaio “O princípio de individuação (contribuição a uma filosofia africana)”.
Vale finalmente acrescentar que, aos nos propormos a pensar sobre a dimensão estética dessa experiência, temos em conta as complexas relações entre visibilidade e invisibilidade, entre exposição e segredo, as quais, igualmente implicadas nos múltiplos corpos de cada pessoa, criam possibilidades variadas de conexão entre o cosmos e a política, entendidos como dimensões que participam das práticas rituais, orientando os seus processos de composição e as alianças, ou eventualmente os dissensos, que se formam a seu respeito.
É com o objetivo de pensar todos esses temas, diante de todas as possiblidades que eles abrem, que convidamos acadêmicos e não acadêmicos (mestres e mestras de saberes, benzedeiras e benzedeiros, rezadores e rezadoras, zeladoras e zeladores, pais e mães de santo, lideranças comunitárias etc.) a apresentar propostas que tratem do corpo na relação com o sagrado afro-brasileiro e afroindígena e com tudo aquilo que está implicado nele: seus marcadores de diferenciação e identificação, seu conjunto de gestos e de posturas, de percepções e de sensações, suas conexões com os regimes de constituição de pessoas, seus modos de aprendizado, suas intersecções com raça, gênero e sexualidade etc. As pessoas autoras devem observar as diretrizes da revista.
Estamos interessados em: Artigos inéditos frutos de pesquisas acadêmicas; Ensaios bibliográficos; Ensaios fotográficos; Ensaios fotográficos etnográficos; Entrevistas; Resenhas; Relatos de experiência; Relatos de experiência etnográficos; Traduções de textos indisponíveis no idioma português.
Saiba mais sobre Experiências estético-corporais e práticas rituais em religiões de matriz africana e afroindígena (PRORROGAÇÃO DE CHAMADA DOSSIÊ 2026-1 )